
José Wellington Ribeiro. Mestre em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco
Convido o leitor a fazermos juntos um exercício de imaginação. Vamos imaginar que numa situação hipotética, um rapaz convide uma amiga cristã praticante para ir a um restaurante. A amiga aceita o convite e na data e horário marcado os dois vão ao restaurante. No caminho o rapaz revela à moça que irão a um restaurante chinês. Ao chegar ao restaurante ela rapidamente identifica o local pelo nome característico do restaurante, por exemplo, Bifum, pelas letras tipicamente chinesas usadas para escrever o nome, pela cor da fachada em vermelho e dourado e pela arquitetura do prédio, com telhado e colunas comuns às edificações existentes na china. Logo na entrada, o casal de amigos visualiza um grande Buda dourado, sentado próximo à porta. Ao entrarem no restaurante, percebem a ambientação também em tons de vermelho e dourado, com dragões pintados na parede e figuras de deuses chineses completando a decoração. Garçons e garçonetes vestem trajes típicos da China, há uma música ambiente também chinesa e um cheiro de incenso no ar. O cardápio traz opções incomuns ao cotidiano brasileiro e nomes como chop suey, yakissoba, tofu e saquê são lidos e pronunciados livre e amplamente. Os amigos degustam pratos novos e diversos e os sabores da culinária chinesa inundam e encantam seus paladares até o final da noite, quando recebem junto com a conta os famosos biscoitos da sorte chineses que recheados com pequenos papéis com mensagens escritas. Nesse nosso exercício de imaginação, pensando em uma moça cristã praticante comum, qual atitude dela você acha que seria esperada, previsível, diante da experiência de jantar em um restaurante chinês?
Agora vamos continuar supondo e imaginar que o rapaz ao invés de ter levado a amiga a um restaurante chinês a tenha velado a um restaurante africano. Ao chegar ao local, a moça rapidamente identifica o restaurante ao visualizar o letreiro com o seu nome, uma expressão em yorubá, por exemplo, ajeum, que significa comida ou alimento sadio. A fachada em branco e azul com vasos de barro e porcelana estrategicamente posicionados sobre um muro. Logo na entrada, o casal de amigos visualiza uma grande estátua de Ogum, um dos orixás da mitologia africana. Ao entrarem no restaurante, percebem a decoração também em tons de azul escuro, verde e branco, observam as figuras de outros orixás decorando as paredes. Garçons e garçonetes vestem trajes típicos da África, usam turbantes, saias longas, trajes que se assemelham a trajes rituais do candomblé. Há uma música ambiente, também africana, ecoando o som e o ritmo dos tambores e um cheiro de incenso no ar. O cardápio traz opções incomuns ao cotidiano brasileiro e nomes como amalá, acarajé, ipeté e efó, são lidos e pronunciados livre e amplamente. Os amigos degustam pratos novos e diversos e os sabores da culinária africana inundam e encantam seus paladares até o final da noite, quando eles recebem de cortesia um pequeno cálice com uma bebida alcoólica feita à base de ervas, entre elas a jurema. Nesse nosso exercício de imaginação, pensando em uma moça cristã praticante comum, qual atitude dela você acha que seria esperada, previsível, diante da experiência de jantar em um restaurante africano?
As duas situações propostas são, como já disse, hipotéticas. Estão cheias de possibilidades de imprecisões e, diante da liberdade que a imaginação pode nos proporcionar, as possibilidades de reação da moça convidada podem ser diversas, inclusive apaixonar-se pelas duas culinárias e culturas, tanto a chinesa quanto a africana.
Entretanto, no início do nosso exercício imaginativo destaquei a pertença religiosa da moça e sua forma de ser religiosa: praticante. Em sendo uma devota do cristianismo, católica, ortodoxa ou evangélica, é aceitável que possamos prever um comportamento de maior aceitação e familiaridade em relação ao restaurante chinês e de estranhamento e talvez até de recusa em relação ao restaurante africano.
O que quero propor com esse singelo exercício é a oportunidade de refletirmos sobre a razão que pode nos levar a estranhar mais uma cultura que a outra, sendo que as duas são totalmente diferentes da nossa. Uma observação que pode nos ajudar a compreender essa diferença é a forma como historicamente fomos apresentados a essas culturas como povo. Os chineses, assim como os japoneses e europeus, chegaram maciçamente ao Brasil, no final do século XIX e início do século XX, patrocinados e apoiados pelo Estado e com a expectativa de branqueamento da população, entendendo-se branqueamento como melhoramento, de acordo com a forma de pensar da nefasta doutrina higienista. Já os africanos foram trazidos para o Brasil escravizados desde o século XVI, sendo esta condição suficiente em si só como explicação para o tratamento dispensado aos negros pelo Estado e a igreja, inicialmente desumano e hediondo e, depois da extinção da escravatura, vil, irresponsável, inconsequente e covarde. Mais modernamente, o cinema pode nos ajudar a compreender essa diferença na forma de nos relacionarmos com essas culturas. Thor, um deus pagão para os cristãos, que pertence a mitologia nórdica, é aclamado com super herói de histórias em quadrinhos há décadas e é personagem central de vários filmes hollywoodianos que tiveram sucesso de bilheteria, onde, provavelmente, muitos dos que assistiram aos filmes são cristãos. A reflexão que quero provocar aqui é: por que Thor, Odin e Loki (pai e irmão de Thor) são aceitos nas telas dos cinemas e das nossas televisões e Ogum, Oxóssi, Xangô e Oxalá não o são?
Qual a razão dos deuses nórdicos serem aceitos com deuses e os deuses africanos serem classificados por muitos como demônios, cujos nomes não devem sequer ser pronunciados?
Talvez você tenha chegado à resposta que justifica o título desse texto. Essa rejeição aos elementos das religiões de matriz indígena e africana pode ser explicada pela intolerância religiosa.
O conceito de intolerância religiosa
A Intolerância religiosa é um elemento fundante da sociedade brasileira, assim como o racismo em todas as suas formas de se apresentar. Fruto medonho do processo de colonização, a intolerância religiosa produziu sementes que geraram novas árvores e que, por sua vez, produziram outros novos frutos até os dias atuais. Ela mantém-se viva no Brasil há mais de 500 anos.
Quando o europeu branco e cristão iniciou o processo de exploração das terras brasileiras, realizou, sob a tutela do Estado, com o patrocínio do mercado e a benção da igreja o extermínio, o massacre e a exploração dos povos indígenas e africanos. Toda cultura desses povos subjugados foi desprezada, banida e muitas vezes aniquilada. O mesmo aconteceu com suas manifestações religiosas. O poder na igreja durante e depois do período colonial era muito grande. Foi o mesmo poder que abençoou a escravidão, defendeu a opressão contra as mulheres, gestou e legitimou a inquisição. A classe dominante colonial era majoritariamente cristã e associou-se à igreja no esforço de converter índios e negros ao cristianismo, crendo e determinando o paganismo de qualquer outra manifestação religiosa. O diabo, personagem bíblico, passou a ser, no entendimento dos cristãos, patrono das religiosidades indo-afro-brasileiras e as práticas religiosas dessas manifestações classificadas como bruxaria e feitiçaria.
Assim, o branco cristão que escravizada, estuprava, maltratava, assassinava e tratava seres humanos como coisas e mercadorias. Ao mesmo tempo, ia à igreja, acompanhava novenas e procissões e manifestava sua devoção aos santos, impondo aos seus escravos a prática da mesma fé. Além disso, classificavam as práticas da religião vinda da África ou a praticada entre os índios como demoníacas, condenando-as e banindo-as da sociedade. O sacrifício de animais, o animismo fetichista, o batuque, as festas, as danças, o álcool e o fumo usados como elementos rituais, o transe, as curas, as obrigações e os despachos (ebós) foram rotulados como práticas do mal, de mau gosto, feias, sujas, contaminadas, pecaminosas, como “coisa de negro”, no sentido mais absurdo e pejorativo dessa expressão, como culto ao demônio, estimulando o afastamento e o medo das punições humanas e divinas.
Ao final do período colonial, com a proclamação da república e a promulgação da constituição de 1891 que fez a separação do Estado e da igreja e instituição do Estado laico, a intolerância religiosa deveria ter sido aplacada, mas, ao contrário disso, recrudesceu. A igreja católica continuou poderosa e ensinando que era a única religião correta. Outras religiões, inclusive os protestantes, tiveram que enfrentar grande resistência para estabelecer-se no país. Nada comparado, no entanto, à perseguição sofrida pelas religiões de matriz indígena e africana. Nas décadas de 20 a 40 e nas décadas de 60 a 80, durante o Estado novo e a ditadura militar, o Estado realizou a caça aos terreiros de candomblé e umbanda. As religiões de matriz africana foram tratadas como caso de polícia, elementos rituais foram apreendidos e líderes religiosos presos. Em Salvador e em Recife funcionou no Serviço de higiene mental – SHM, que era responsável por conceder licenças de funcionamento às casas de cultos de matriz africana, desde que fosse comprovada a sanidade mental do sacerdote. O SHM chegou a publicar panfletos que orientava a população a se afastar desses cultos, divulgando que a práticas dessas religiões poderia provocar a loucura.
Desde cedo fomos ensinados a nos afastar das religiões de matriz africana. Quem nunca teve medo de um despacho encontrado em uma encruzilhada? Assim, a religião dos negros caminhou, com as casas de candomblé sempre periféricas e remotas, as práticas religiosas sempre veladas, clandestinas e malditas.
Intolerância religiosa e religiões neopentecostais
A partir da década de 70, um novo fenômeno religioso ocorreu no Brasil, o surgimento e crescimento vertiginoso das religiões neopentecostais, que utilizavam a dinâmica da batalha espiritual como elemento principal de sua doutrina. Essas igrejas passaram a perseguir ostensivamente as religiões de matriz indígena e africana e, utilizando poderoso aparato midiático, demonizaram didática e implacavelmente essas religiões.
Exorcismos, expulsões de encostos e entidades, cultos de “desobcessão” passaram a ser exibidos nas televisões. As entidades da umbanda passaram a ser entrevistadas pelos líderes religiosos dessas igrejas, com efeito cênico caprichado, com direito a trilha sonora aterrorizante e vozes roucas e ferozes e supostamente demoníacas dos entrevistados, além de movimentos descontrolados e corpos contorcidos.
A intolerância religiosa só aumentou a partir daí. A constituição de 1988 trouxe avanços significativos, como seu artigo 5º que tornou inviolável o direto de culto e de livre expressão da fé e crença e mesmo o direto a não ter fé. Apesar disso, o preconceito e a intolerância continuaram crescendo. Leis foram criadas para minimizar a intolerância praticamente em vão. A lei 10.639 de 2003 que determina o ensino da história da África, sua cultura e consequentemente sua religião nas escolas, nunca foi colocada em prática e sofreu articulada, organizada e militante resistência de professores e gestores católicos e evangélicos dentro das instituições públicas. Ao mesmo tempo, a prática do proselitismo aumentou significativamente nas aulas de ensino religioso nas escolas públicas e mais intensamente ainda nas escolas privadas confessionais.
Relatório sobre Intolerância e Violência Religiosa
Nas últimas décadas, especialmente depois de 2011, os casos de intolerância religiosa que vitimam o povo de santo têm se multiplicado em todo país. O Relatório sobre Intolerância e Violência Religiosa (RIVIR), lançado em 2016 traz dados alarmantes sobre o crescimento desta violência. Segundo o relatório, entre 2011 e 2015 houve um crescimento superior a 5.000% no registro de casos de intolerância religiosa no Brasil. Esses registros foram feitos em delegacias e órgãos especializados em crimes raciais e preconceito religioso em todo país. O RIVIR foi solicitado pela ONU diante da preocupação com o aumento desse tipo de crime de ódio no Brasil. O assunto tornou-se tão relevante que o Ministério da cultura decidiu explorar esta discussão na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2016, propondo o tema: “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil.”
Neste cenário de aumento da intolerância religiosa, há registros de violação de locais de culto, agressões físicas e verbais ao povo de santo, depredação de terreiros e altares. Mais recentemente, o crescimento das igrejas neopentecostais avançou para as favelas cariocas viabilizando uma inusitada associação com o tráfico de drogas, armando o intolerante religioso com instrumental bélico de guerra e com a crença de que o demônio, a raiz de todos os males, mora dentro dos terreiros de candomblé e umbanda estabelecidos na região. Houve registros de dezenas de terreiros depredados por traficantes, perseguição, expulsão e morte de sacerdotes e adeptos da religião.
Voltando ao nosso exercício imaginativo no início do texto, podemos supor que a resistência e o estranhamento possíveis da moça crente diante da cultura e religiosidade indo-afro-brasileira, que a sua intolerância religiosa, tenha sido edificada tomando como base o desconhecimento desse universo de cultura e fé. Porém, em alguma medida, esse desconhecimento também existe, em maior ou menor proporção, em relação à cultura e religiosidade chinesas. Podemos então pensar que a intolerância religiosa que afasta cristãos dessas expressões de religiosidade seja a propagação do conhecimento distorcido, manipulado e deturpado sobre elas. Ou seja, a intolerância religiosa é nutrida pelo não conhecer e pelo conhecer errado.
Assim como propus humildemente no início desse texto uma metáfora para tentar explicar a intolerância religiosa, o filósofo grego Platão propôs de forma brilhante a Alegoria da caverna 500 anos antes de Cristo buscando explicar como os diversos graus de conhecimento sobre as coisas e os fatos podem influenciar e determinar a forma como vivemos. Ele mostrou que existe um modo de conhecer, de saber, que é o mais adequado para se pensar em um governante capaz de fazer política com sabedoria e justiça, ao mesmo tempo, mostrou que não saber, não conhecer ou conhecer distorcidamente, como as imagens dos objetos nas paredes da caverna, podem provocar aprisionamento, cegueira e sofrimento.
Acredito que o antídoto para o veneno da intolerância religiosa, assim como para todos os tipos de preconceito, é o conhecimento. E o conhecimento só é possível através da educação. Pois certamente ao conhecer a verdade ela nos libertará a todos da ignorância.
*O artigo não representa a opinião do Observatório da Democracia, Direitos Humanos e Políticas Públicas e tampouco da Universidade Federal do Amapá.

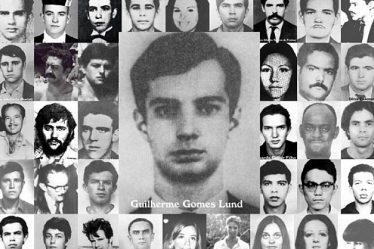


Ótimo artigo. Realmente a falta de conhecimento que gera o preconceito e a intolerância é a raiz de todos os males.